A invisibilidade de corpos e a voz das sobreviventes de feminicídio marcaram o segundo dia do seminário Feminicídio: entre a misoginia e o negacionismo, realizado no Centro Cultural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). As mesas realizadas na última sexta-feira (27) tiveram mediação da promotora legal Maria Inês Nunes Barcelos.
Sobrevivente de tentativa de feminicídio, a ativista Carol Santos enviou uma carta lida por Eliane Bruel. “Escrever esse texto é minha forma de estar presente, mesmo diante das dores e ausências. Não posso permitir que as sequelas calem minha voz, como já tentaram tirar minha vida. Foi justamente por viver na pele tantas formas de violência, descaso e abandono que compreendi a urgência de transformar essa dor em mobilização coletiva”, afirmou.
Coordenadora do Coletivo Feminino Plural e fundadora do movimento Inclusivass, Santos relatou os impactos de 25 anos de violências físicas, emocionais e institucionais. No texto, ela narrou a dor crônica provocada por lesão medular e a dor permanente causada por violência obstétrica. Em 2021, Santos criou o projeto Histórias Contadas a Partir das Vivências, para acompanhar outras sobreviventes. “Vimos como o Estado ainda prefere contar os corpos do que garantir vida e dignidade (…) Seguirei firme por todas nós. Não descansarei enquanto houver mulheres lutando e histórias a serem contadas”, concluiu.
Também sobrevivente de uma tentativa de feminicídio, em 2002, antes da criação da Lei Maria da Penha e da Lei do Feminicídio, Fabiane Lara, presidenta da Associação das Promotoras Legais Populares, revelou que levou anos para perceber ter sido vítima. “Quando contei minha história para a Carol, percebi que eu era uma vítima, não a culpada.” A escuta impulsionou a militância como promotora legal popular nas periferias. “Essa luta tomou um sentido maior do que a experiência individual de uma mulher negra que sobreviveu a uma tentativa de feminicídio”, expôs.
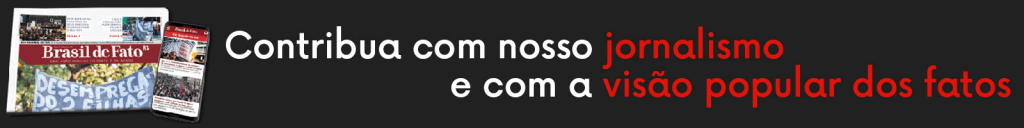
Lara criticou a negligência do Estado e a ausência de políticas públicas efetivas. “O diagnóstico das mulheres vítimas só aumenta. Isso tem um significado importante. Não é porque temos uma lei. A lei diagnostica. Mas muito pouco foi feito para, de fato, reduzir os casos de feminicídio.” A presidenta também questionou a recriação da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), após uma década sem estrutura específica. “A luta agora é por orçamento e participação popular. Essa é a etapa mais difícil.”
A presidenta avalia que as sobreviventes são esquecidas e as que perdem a vida viram apenas números, muitas vezes escondidos. Desde a criação da Lei do Feminicídio, em 2015, até o final de 2024, o Rio Grande do Sul registrou 2.919 tentativas e 935 feminicídios consumados, segundo dados do Observatório da Violência contra a Mulher, da Secretaria da Segurança Pública. De janeiro a maio de 2025, foram 116 tentativas e 30 feminicídios consumados. Segundo levantamento da Lupa Feminista, entre o início de 2025 e o dia 7 de junho, foram registrados 35 feminicídios no estado.
Ao final, Lara reforçou a força das redes comunitárias e concluiu dizendo que a misoginia mata. “Não há como combater o feminicídio sem combater a misoginia. A utopia que precisamos acreditar é a de uma vida sem violência. Porque cada vez que a gente perde uma de nós, a gente perde um pedaço da gente.”
Vereadora aponta ausência de políticas e reforça a utopia como motor
A vereadora de Pelotas Fernanda Miranda (Psol) destacou o ciclo contínuo de violências, como a obstétrica, ainda invisibilizada. “Mesmo com dossiês e denúncias, há quem se preocupe mais com prestígio do que com vidas.” A parlamentar falou da “morte simbólica” de mulheres anuladas por dependência econômica, maternidade imposta e ausência de políticas públicas eficazes. “Elas vivem uma vida que não é sua, que não escolheram, submetidas até a morte, que pode acontecer de várias formas e nem sempre é investigada.”
Miranda relatou episódios de violência política de gênero dentro da Câmara Municipal e criticou a omissão dos homens na luta contra o machismo: “Eles gritam ‘violência de gênero’ quando lhes convém, mas não se reconhecem como agressores. Não querem ouvir o que é letramento, nem mudar.” A parlamentar denunciou ainda a falta de políticas públicas e apelou por ação e escuta. “Somos nós que nos seguramos. Cadê o Estado?” E reafirmou: “A culpa nunca é da mulher. Mas nela recaem julgamento e vergonha. Mesmo com dor, seguimos. É a utopia que nos move.”
A invisibilidade dos corpos
Na mesa seguinte, dedicada à invisibilidade, a psicóloga e conselheira do Conselho Estadual dos Direitos Humanos, Samantha Medeiros Ferreira, falou sobre o lesbocídio, termo criado a partir de um dossiê sobre assassinatos de lésbicas no Brasil. “Os principais assassinos são homens, mas, diferente do feminicídio, geralmente não há relação afetiva. O motivo é o ódio à existência lésbica.”
Ferreira citou o caso de Ana Paula Campestrini, assassinada em 2021, em Curitiba. Após 17 anos de casamento, ela iniciou um relacionamento com uma mulher. O ex-marido passou a persegui-la e controlá-la. “Wagner dizia aos filhos que a mãe os havia abandonado para viver com mulheres.” Ele confessou o crime, executado por um amigo. O Ministério Público reconheceu a lesbofobia como motivação. “Esse reconhecimento dá dignidade à dor. É essencial para garantir direitos e afirmar nossa existência.”

Justiça, mídia e apagamento: estereótipos que matam de novo
Em sua intervenção a professora Rochele Felini Fachinetto falou sobre a pesquisa que analisa julgamentos no Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Pará. Segundo ela o objetivo é compreender como o marcador de gênero tem sido incorporado ao processamento judicial, especialmente nas etapas dos julgamentos pelo Tribunal do Júri.
Desde 2023, foram analisados cerca de 40 casos, incluindo processos e julgamentos, para investigar como os atores da justiça compreendem o feminicídio e as representações sociais que orientam essa definição penal. A professora também lembrou o caso de Ângela Diniz, nos anos 1970, quando o feminicida, Doca Street, foi absolvido por “legítima defesa da honra”. “Esse julgamento impulsionou o debate sobre violência de gênero.”
Fachinetto criticou estereótipos que dificultam o reconhecimento da violência, como a exigência de que mulheres sejam “boas esposas” ou “mães dedicadas”. “Por muito tempo, o feminicídio foi restrito à esfera doméstica, em relações conjugais, cis-heterossexuais, e frequentemente envolvendo mulheres brancas. Havia uma relutância do sistema de justiça em reconhecer o marcador de gênero na morte dessas mulheres.” Por fim, defendeu mais diálogo entre coletivos, academia e justiça.
Já a jornalista Niara de Oliveira, coautora do livro Histórias de morte matada, contadas feito morte morrida, criticou a cobertura da mídia sobre feminicídios. A autora apontou o uso da voz passiva e a culpabilização da vítima. “Quase todas as matérias dizem ‘mulher é morta’, como se a morte acontecesse sozinha.” O livro que também é assinado pela jornalista Vanessa Rodrigues, é resultado de um ano de pesquisa que abrangeu quatro décadas de notícias, desde o caso Angela Diniz até a campanha do Levante Feminista contra o feminicídio.
De acordo com Oliveira, a imprensa muitas vezes se pauta apenas pela versão oficial, sem questionar ou investigar a fundo, e isso contribui para a subnotificação dos crimes. Ainda analisando o comportamento dos meios de comunicação, a jornalista criticou o uso de “suposto” – mesmo com confissão –, a exibição de imagens sensuais e o apagamento do agressor. “Mesmo quando o agressor confessa o crime, é o rosto da mulher que estampa as notícias. A vítima vira protagonista apenas na hora da morte.”
Por fim, alertou para o negacionismo institucional. “Feminicídios tratados como homicídios comuns impedem políticas eficazes. Feminicídio é crime de ódio. Não é por amor, nem por descontrole. É misoginia. Criminalizar esse ódio é essencial. A imprensa precisa fazer autocrítica.”
“A cisgeneridade ainda é invisível nas análises sobre violência de gênero”
A mestranda Ella Brites participou da mesa sobre invisibilidade e provocou a ausência da cisgeneridade como categoria analítica. “Aquilo que está invisível é o que não foi nomeado, o que não foi observado.”
Segundo ela, a cisgeneridade, condição de quem não mudou de gênero, ancora as desigualdades entre homens e mulheres. “Só há regime heterossexual porque a cisgeneridade opera.” Ela aponta que essa lógica naturaliza a violência e invisibiliza os assassinatos de pessoas trans. “Para olhar com generosidade e urgência os assassinatos de pessoas trans, precisamos romper a naturalização da cisgeneridade que estrutura nosso olhar.”
As falas da mesa reafirmam: combater o feminicídio exige nomear violências, romper com a misoginia estrutural e fortalecer os vínculos entre mulheres que resistem nas margens do abandono.





