“Ele saiu de casa deixando para trás o filho de dois anos, todas as dívidas, levando minha poupança e meu carro. Desde então enfrento um litígio abusivo, que começou com alegações infundadas e que me colocou em uma luta desigual pela guarda do meu filho.”
Lucy, cujo nome foi alterado para preservar sua identidade, professora, vive, como ela descreve, um pesadelo, que se arrasta por meses. Após sete anos de casamento e um rompimento abrupto, seu ex-marido deixou a casa, o filho de dois anos, e levou consigo suas economias. O acordo jurídico inicial, que previa guarda compartilhada e convívio regular, foi cumprido pela mãe sem interferências, mesmo após sua mudança de estado a trabalho. O pai teve acesso irrestrito ao filho, contudo renunciou por conta própria as visitas em 2023. Em dezembro de 2023 ele entrou com um pedido de alienação parental.
Poucos dias depois, ele pegou o filho para as férias e não o devolveu por 45 dias, acendendo um sinal de alerta em Lucy. Para evitar que a situação se repetisse, ela pediu demissão e retornou a Porto Alegre. Contudo, a saga da professora estava apenas começando. Em dezembro de 2024, após o pai ser intimado a pagar pensão alimentícia atrasada, ele pegou o filho para o Natal e nunca mais o devolveu, iniciando uma narrativa de maus-tratos e violência psicológica contra Lucy, que ela nega veementemente. Segundo reforça a mãe, o pai sempre se limitou a pagar a pensão imposta.

Dados e padrões da Alienação Parental no Brasil
A história de Lucy não é um caso isolado. Criada em 26 de agosto de 2010, a Lei de Alienação Parental tem sido alvo de críticas de especialistas e movimentos de mulheres, que apontam seu uso distorcido em processos de guarda, especialmente quando há denúncias de violência doméstica.
Embora a lei tenha sido criada com o propósito declarado de proteger o direito da criança à convivência com ambos os genitores, garantindo que um pai ou mãe não interfira na relação do filho com o outro, a realidade tem mostrado um desvio significativo de seu objetivo original.
De acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), uma média de 4.500 ações de alienação parental são distribuídas por ano na Justiça brasileira, com um aumento notável durante a pandemia da covid-19. Até outubro de 2023, já haviam sido registrados 5.152 processos dessa natureza, em um universo de aproximadamente 148.995 casos litigiosos de divórcio no mesmo período.
O Grupo de Pesquisa Direito, Gênero e Famílias, da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, realizou um estudo de acórdãos do Tribunal de Justiça do estado do Rio Grande do Sul, dos anos de 2016 a 2019, que constatou que os pais são os que mais acusam (70,73% das decisões), enquanto mães são as mais acusadas (75,6%). A guarda ou lar de referência pertencia à mãe em 68,29% dos casos.
“Mulheres reconhecidas como alienadoras sofrem sanções mais severas, e denúncias de abuso sexual infantil, quando o genitor é absolvido, são usadas como fundamento para alegar AP da mãe.” As informações constam no livro Alienação Parental: Uma Nova Forma de Violência de Gênero Contra Mulheres e Crianças na América Latina e Caribe, organizado por Tamara Amoroso Gonsalves.
“São sempre as mesmas narrativas, as mesmas práticas”, diz Lucy. “O genitor não aparece na vida da criança, não paga a pensão, não leva em consultas médicas, não participa da rotina. E quando aparece, entra com processo, pedindo guarda, acusando a mãe.”

Vidas em suspenso: o drama de mães e filhos
Em uma tentativa desesperada de buscar celeridade, Lucy recorreu à ouvidoria, mas a resposta foi a transferência de seu filho de casa e de escola, sem que ela ou sua advogada fossem ouvidas. A juíza, em uma decisão que Lucy interpreta como punição, declarou-se incompetente e transferiu o caso para outra comarca, prolongando ainda mais a separação e dificultando o contato com o filho.
A mãe relata que só conseguiu ver o filho duas vezes em oito meses, sempre sob supervisão e por curtos períodos. A dor da separação é agravada por eventos familiares, como a morte de sua mãe, que ela não pôde vivenciar plenamente devido à batalha judicial. O pai da criança, ciente da situação terminal da avó, impediu o contato do filho com a família materna, privando-o de se despedir.
Não é a primeira vez que Lucy enfrenta tal situação. Há 29 anos, o pai de seu filho mais velho também o levou para férias e nunca mais o devolveu. Ela levou nove meses para reaver o filho, tendo que vender todos os seus bens e lutar na justiça para conseguir a guarda. Essa experiência traumática a deixou com perdas financeiras e emocionais profundas. O pai de seu filho mais velho, ao saber da situação atual, reconheceu o impacto de suas próprias ações passadas, servindo de inspiração para a atrocidade cometida pelo pai de seu filho mais novo.
A coordenadora de Lucy, em Madrid, também acompanha a situação, ciente do impacto em seus planos de pós-doutorado em Portugal. Lucy expressa a angústia de estar “parada” enquanto a vida acontece, sem poder realizar seus sonhos enquanto seu filho não estiver com ela. “Não importa o nível de instrução, o nível social, a condição social da mulher a lei é usada como arma e a criança a munição”, pontua a professora.
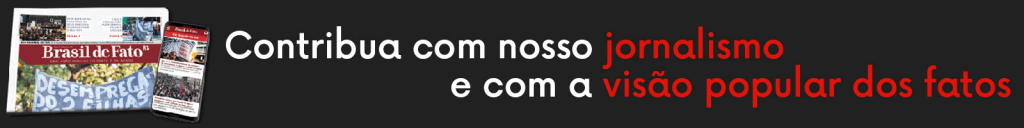
Impacto na saúde mental e a força da rede de apoio
A luta judicial vai muito além dos tribunais e atinge profundamente a saúde mental e a vida cotidiana das mães. “Minha saúde mental nem sempre está bem. Preciso de medicação para dormir e já estou com anemia severa. Mas tenho uma rede de apoio, minha advogada, minha psicóloga, coletivos de mulheres e meus alunos, que até organizaram rifas para me ajudar. É isso que me mantém de pé.”
Lucy também denuncia a falta de acolhimento por parte do sistema de Justiça. “Eu não sou ré, eu sou vítima. O que mais dói é que são mulheres, como eu, juízas que não conseguem ter o mínimo de empatia. Eu tive que ouvir que não sou uma boa mãe porque trabalho muito e deixo meu filho na escola integral. Quando, na verdade, é exatamente isso que me permite pagar as contas e lutar por ele.”
A urgência da aplicação do protocolo de gênero
A advogada Letícia Marques Padilha considera este caso único, identificando múltiplas violências contra a genitora: vicária, institucional e de gênero. Ela ressalta a falta de observância ao Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que deveria ser seguido pelos magistrados, apesar de sua solicitação.
O protocolo do CNJ serve para proteger mulheres em situações de vulnerabilidade, reconhecendo o contexto patriarcal e machista da sociedade. “Este protocolo é crucial para proteger mulheres em situações de vulnerabilidade, combatendo acusações infundadas e garantindo equidade e respeito aos seus direitos. Em uma sociedade patriarcal e machista, onde mulheres são frequentemente taxadas de ‘loucas’ ou ‘histéricas’, a aplicação rigorosa deste protocolo é fundamental para assegurar que a justiça seja verdadeiramente justa e que os direitos das mães e dos filhos sejam protegidos.”
Segundo Padilha, o processo de alienação parental não é apenas um litígio legal; é uma questão que envolve vidas humanas. “É imperativo que o sistema Judiciário atue com a cautela e a sensibilidade necessárias, garantindo que nenhuma criança seja retirada do convívio de um dos pais sem provas concretas de violência. A luta de Lucy e de tantas outras mães é um lembrete doloroso da necessidade de reformar um sistema que, muitas vezes, falha em proteger os mais vulneráveis.”
Rede de acolhimento e o papel institucional
A advogada Lissara Fernandes, assessora jurídica da deputada estadual e procuradora especial da Mulher, Bruna Rodrigues (PCdoB), destaca a importância da rede de proteção. Lucy chegou ao órgão por meio de uma representante, demonstrando a necessidade de uma rede articulada. A Procuradoria fiscaliza políticas públicas e acompanha casos que indicam problemas estruturais, exigindo respostas institucionais.
Em seis meses, a Procuradoria recebeu cerca de 10 casos de aplicação da LAP, evidenciando a urgência do debate. Fernandes observa que esses casos têm em comum relatos de violências psicológicas e falta de validação das dores das mulheres pelas instituições, que se sentem revitimizadas por decisões judiciais que ignoram contextos de violência doméstica ou desigualdade de gênero.
“As diferenças estão nos perfis: já acompanhamos mulheres de diferentes classes étnicas e sociais, desde trabalhadoras em situações de vulnerabilidade social até acadêmicas de alta titulação, como a Lucy.” Contudo, pontua Fernandes, a raiz do problema é a mesma: um padrão de deslegitimação da palavra das mulheres e de afastamento injusto do convívio com seus filhos.
“São mulheres que, ao terem seus filhos retirados de si por decisões judiciais, sentem não apenas a perda do convívio materno, mas também a violência simbólica e institucional de terem suas vozes desacreditadas. Muitas relatam que, em vez de proteção, encontram suspeita e julgamento por parte das instituições.” A advogada reforça que um dos papéis da Procuradoria, enquanto órgão especializado do Parlamento gaúcho, é fiscalizar políticas públicas e receber denúncias.
“Na maior parte das vezes, esses casos chegam até nós porque a rede de atendimento não deu uma resposta adequada, e a Procuradoria se torna um espaço onde essa mulher pode pedir ajuda. Nesses casos, não substituímos a rede de atendimento, mas atuamos retornando a mulher para os serviços competentes e acompanhando de perto, incidindo politicamente para que os órgãos públicos corrijam falhas e prestem o atendimento de forma adequada.”
Fernandes reforça a importância do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, que deveria ser obrigatório. Ele é fundamental para reparar desigualdades históricas e garantir que a justiça reconheça as mulheres como sujeitas de direitos, deixando de revitimizar.
Ao avaliar os 15 anos da Lei de Alienação Parental, Fernandes afirma que o saldo é preocupante. “Em vez de cumprir seu propósito original, proteger crianças e adolescentes, a lei tem sido constantemente distorcida e aplicada de forma a punir mulheres, especialmente mães que denunciam situações de violência. Em apenas seis meses, recebemos cerca de 10 casos que ilustram esse problema: mulheres que, além de perderem o convívio com seus filhos, sentem-se violentadas psicologicamente pelas instituições e têm suas dores deslegitimadas.”
Para ela, é urgente revisitar a legislação. “Isso precisa ser feito a partir da escuta das mulheres afetadas e da incorporação da perspectiva de gênero como critério obrigatório em todas as decisões judiciais. Sem isso, a lei continuará a produzir injustiças e a aprofundar desigualdades.”
“Lei é usada para silenciar denúncias de violência sexual”, denuncia coletivo
Para a integrante do Coletivo Voz Materna, Sibele Lemos, desde sua aprovação, a lei tem silenciado mães que denunciam violência sexual contra filhos. Sob a alegação de alienação parental, denúncias de abuso são tratadas como falsas, resultando em inversão de guarda e entrega de crianças a pais abusadores. Mulheres são rotuladas como vingativas e conflituosas, com restrição de convivência com os filhos, pois o Judiciário desconsidera a violência no contexto familiar.
Lemos aponta que o impacto da LAP pode ser visto nos dados de violência contra mulheres e crianças. Homens agressores, usando a LAP, mantêm acesso a mulheres vítimas de violência doméstica, favorecendo o feminicídio, e acesso às crianças, perpetuando violências física, psicológica e sexual.
Embora faltem pesquisas específicas sobre os efeitos da lei, Lemos aponta que o impacto do conceito da alienação parental pode ser visto nos dados de violência contra mulheres e crianças. “Homens autores de violências, com o uso da LAP, mantêm o acesso às mulheres mães, vítimas de violência doméstica, favorecendo o feminicídio, e o acesso às crianças, perpetuando as violências física, psicológica e sexual”, denuncia.
Defensores da lei argumentam que mães fazem denúncias falsas por vingança. Lemos refuta isso com dados: em 2001, apenas 2% dos casos de violência sexual intrafamiliar eram denunciados; em 2018, houve aumento de mais de 80% das denúncias. Em 2023, houve explosão de estupros de vulneráveis. Ela questiona: a maioria das acusações de alienação parental recai sobre mães, que são as principais a denunciar violência sexual contra filhos, e o Brasil passou do 7º para o 5º país em feminicídios desde a aprovação da lei.
Justiça patriarcal
Na avaliação de Lemos, a adesão do Judiciário ao conceito de alienação parental decorre de fatores estruturais: “A justiça é feita por homens e para homens, é patriarcal, e muitas mulheres em cargos de poder estão colaborando para a manutenção desse sistema misógino”. Ela aponta ainda que a palavra da mulher, especialmente quando mãe, “vale menos ainda”, e que crianças não são reconhecidas como sujeitos de direitos.
Para a integrante do Voz Materna, a alienação parental é um “pseudoconceito, sem reconhecimento científico em nenhum lugar do planeta”. Criada por um médico nos Estados Unidos, a ideia foi usada inicialmente para defender homens acusados de violência sexual, naturalizando práticas como incesto e pedofilia.
“O Brasil é o único país no mundo com uma lei exclusiva que trata da suposta alienação parental – um instrumento jurídico de tortura e silenciamento das vítimas e de proteção de homens autores de violência”, afirma Lemos.
Ela reforça que, diante da epidemia de feminicídios e do aumento dos estupros de vulneráveis, o único antídoto é acreditar e proteger mulheres mães, crianças e adolescentes. “Qualquer luta que tenha essa pretensão é imprescindível que inclua e fortaleça a nossa luta pela revogação da LAP.”
Mobilização pela revogação
Em 2023, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), em audiência pública da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, posicionou-se contrário à Lei 12.318/2010. O Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Nacional de Direitos Humanos e o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente também já se manifestaram pela revogação da lei.
A movimentação mais recente é o Projeto de Lei 2812/22, da deputada federal Fernanda Melchionna (Psol/RS), que busca revogar a LAP. O PL surgiu de relatos e do movimento de mães que denunciam o uso da lei para perpetuar ciclos de violência contra mulheres e crianças, forçando-as a conviver com abusadores. “A legislação não pode ser um instrumento de perpetuação de violência, pelo contrário, se a lei não está a serviço da proteção de crianças e adolescentes, é evidente que precisa ser revogada.”




