É agosto – mês de lesbianidades. Neste mês, duas datas cravadas no calendário para se olhar, discutir e exaltar lésbicas.
É agosto. Famoso mês do cachorro louco. Conhecido popularmente por ser o mês mais longo do ano. Sem feriados – ou qualquer respiro que nos tire da roda capitalista.
É agosto – mês de lesbianidades. Neste mês, duas datas cravadas no calendário para se olhar, discutir e exaltar lésbicas. Com intervalo de apenas 10 dias entre uma e outra, temos, em 19, o dia do Orgulho Lésbico, e em 29 de agosto a Visibilidade Lésbica. O primeiro é uma celebração à nossa identidade – um dia festivo. O segundo, mais político, coloca luz sobre nossas pautas, demandas e necessidades específicas.
Sem dúvida, esse é um mês que movimenta as agendas das sapatões, em todo país. E depois, acaba. Como tudo na vida. Mas não falo apenas do mês, que acaba e traz a proximidade da primavera. Falo mesmo, da lembrança que lésbicas existem. Essa também parece findar.

Ninguém mais fala sobre lésbicas para além de agosto. Assim como ninguém comenta as pautas sobre mulheres depois do 8 de março. Aparentemente ninguém mais nos chama para falar em público, ninguém mais lê o que escrevemos ou consome o que produzimos e nossa existência retorna à nossa comunidade, carinhosamente apelidada como “brejo” e assim, se reforça um tipo de violência sutil, que percebe nossa existência como uma forma de cumprir uma agenda social e garantir uma estrelinha de bom comportamento no editorial de diversidade das empresas.
E assim, nossa existência – para além das nossas iguais, se resume a 30 dias, num mês de inverno, onde temos que dar conta dos trabalhos, das famílias, da própria vida, e ainda das entrevistas, das marchas, dos eventos, palestras e convites diversos e de última hora.
Casualmente – ou não, meu aniversário é no dia 29 de agosto. Sim, no dia da visibilidade lésbica. Autoexplicativo, eu diria. E nesses quase 39 anos de existência, eu aprendi, que existem diversos tipos de suporte que podemos prestar às mulheres. O apoio aos nossos direitos, deve, impreterivelmente, passar pelo suporte à nossa raiva. E eu tenho sentido bastante raiva ultimamente. Que me faz calar a voz, silenciar, implodir as emoções… resíduos patriarcais que nos impõe docilidade e submissão. A raiva mobiliza, me faz querer andar. Viajar. Sumir.
E é nessa gangorra de querer ser vista e querer ser invisível, que está hoje meu texto. Trago nessas linhas uma informação que para muitos, pode ser considerada uma novidade: nós, lésbicas, não existimos apenas em agosto. Existe vida antes e após agosto – e é sobre ela que eu quero falar. Me espelho, então, no exemplo de mariam pessah quando diz: ‘peço licença para falar de mim e minha história, já que no feminiSmo dizemos que o pessoal é político.’’
Se pudesse escolher, eu gostaria de viver exatamente na intersecção dessas duas datas e do que representam. Cravar a vida onde cada dia pudesse ser celebrado, ao mesmo tempo em que meu direito de existência digna fosse legítimo e amplamente assegurado.
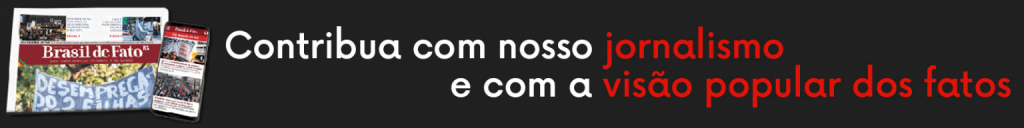
Enquanto escrevo este texto, estou em Brasília, num café de frente para Esplanada dos Ministérios. Em poucas horas, já avistei pelo menos dois casais de mulheres. E mais outras quatro solitárias que decididamente são sapatão – sim, a gente sabe e se reconhece. E sinto algo de genuíno e reconfortante em olhar para elas, apenas vivendo suas existências.
Vivendo um dia, um mês – ou onze meses – sem que precisemos contar nossos corpos abatidos, sem que precisemos repetir as histórias de violência que passamos, sem que precisemos exigir reconhecimento social, cultural e financeiro – naturalmente oferecidos pelos homens aos seus iguais.
Uma existência lésbica digna
Recentemente Geni Nunes discorreu de que é mais fácil reconhecer uma existência lésbica pelo ódio aos homens do que pelo amor às mulheres. Ela tem muita razão. Eu costumo brincar – mas nem tanto – que ridicularizar homens não faz parte de ser lésbica, nem do feminismo, mas essa parte eu faço por puro entretenimento.
Minha parcela de contribuição na reparação histórica, minha via de escape da raiva fomentada pelo machismo e pela lesbofobia. Minha via de elaboração da dor.
Não por acaso o primeiro texto que publiquei aqui foi resultado de uma dor profunda. Eu lembro de começar a escrever para aliviar a dor. Palavras tem sido para mim como um anestésico. Um anti-inflamatório para as mazelas da vida desde que me conheço por gente.
Mas esse ciclo traz um obstáculo em si: e quando não há dor, é possível escrever? O que é material de criar quando as coisas parecem, minimamente, estáveis? Percebo que diferentes artistas já se encontraram nesse dilema: é possível produzir arte através do prazer e do bem-estar? Será que a necessidade de escrever para tamponar a dor é porque a dor é o que mais me marca? Ou é o conteúdo mais ‘aceito’ que eu escreva, pois a minha existência é intimamente ligada às vivências de dor e preconceito? O que eu sou para além da minha dor?
Durante muito tempo, minha escrita, minha produção artística, minhas palavras, todas elas provinham de um lugar de dor. Eu ia internalizando essas micro (ou nem tão micro) violências em mim, e elaborava através de um tanto de palavras entorpecidas. E isso construiu em mim um caminho criativo que só era possível se pautado no sofrimento.
Ele é bonito? Sim. Pode ser útil? Também. Mas é insustentável.
Nos últimos dois ou três anos, tive a atitude mais revolucionário que pude tomar em vida: a decisão inadiável de me manter viva, bem e saudável. Como uma jibóia: tranquila, forte e flexível. Alimentação. Exercício físico. Terapia. Eventuais substâncias. Tudo estruturado para repor as químicas cerebrais levadas diária e sistematicamente pelo capitalismo patriarcal.
Viajei
Outra vez. Deixei pra trás o frio da capital gaúcha e me instalei no calor seco e reconfortante do sol do cerrado. Aqui tem sol e amizades. Música ao vivo de graça na praça. Dias e noites que convidam ao que é leve, sublime, regular, extraordinário, notável, quente e rebolativo. A cidade é um convite ao livre circular, ao relaxar, ao se encantar. Os ipês estão em profusão, apesar dos 100 dias sem chuva. Eventualmente, experimento a sensação de escapar da minha bolha de segurança e, invariavelmente, me deparo vez ou outra, com situações de preconceito. Os conservadores estão em todo lugar.
Estamos em 2025 e ainda tem pessoas que intencionam me ofender pela minha sexualidade que é – em última instância – também minha existência. Sim, porque eu não deixo a minha sexualidade em casa quando saio na rua. Ela é parte de quem eu sou. A última vez que um episódio desses me aconteceu, foi na semana passada. Sinto que são aquelas pequenas provações da vida, como se quisesse testar minha firmeza no propósito.
Nem sempre é fácil. Nem sempre vou levar “numa boa”. Me dou, sim, o direto à raiva. À resposta atravessada que devolvo, para não ficar com rancor atravessado na garganta. Mas não queria. Não quero mais escrever sobre raiva.
Quero o prazer de relatar o calor dos dias. Escrever poemas bobos sobre as mulheres que amo. Ler em voz alta meus textos sobre a sensação de correr na rua, sem limites e sem amarras. Derreter o rancor do meu peito com a luz do sol.
Quero a vida comum e ordinária de alguém que se sensibiliza com o correr da vida. Com a poesia do cotidiano. Celebrar as conquistas das mulheres que admiro e acompanho. E sorrir para as que me acompanharem, também. Quero ser mais do que uma lésbica viva – um número que escapou das trágicas estatísticas. Quero ser uma lésbica que vive.
*Este é um artigo de opinião e não necessariamente representa a linha editorial do Brasil do Fato.




