Com 81 anos completados em janeiro, a maioria deles fazendo jornalismo independente, Elmar Bones da Costa alimenta um sonho: “Restabelecer o projeto do jornal Já e transferi-lo para um grupo de jornalistas que desenvolva uma nova relação de trabalho, sem patrões e com apoio do leitor. Na Alemanha, inclusive, há uma cooperativa de leitores cujo objetivo é sustentar uma mídia independente voltada aos assuntos locais”.
Natural de Cacequi, na Depressão Central gaúcha, mas criado em Santana do Livramento, na divisa com o Uruguai, com passagens pelas redações de Veja, Gazeta Mercantil, Agência Estado e outras, ele encarna uma geração de jornalistas combativos que enfrentaram os anos da ditadura, mantendo coerência e independência.
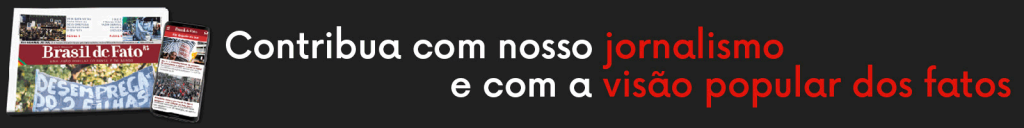
Dos fundadores e primeiro editor do Coojornal, um dos títulos mais importantes entre os veículos alternativos que peitaram a ditadura de 1964, desde 1985 dirige o Já, um pequeno e destemido jornal de Porto Alegre que, entre suas façanhas, inclui a conquista, em 2004, de um Prêmio Esso Nacional de Jornalismo.
Sempre colocou a profissão de jornalista como uma missão social, a de informar os leitores para que eles pudessem tomar decisões. Para ele, a relação editor/leitor é um elo de cumplicidade que se estabelece através das entrelinhas, técnica apreendida durante os anos de chumbo para ludibriar os censores de plantão.
Neste mês Elmar Bones foi um dos homenageados pela Associação Riograndense de Imprensa (ARI) pela longa e fecunda trajetória na imprensa. Nesta conversa com o Brasil de Fato RS, ele conta parte de sua jornada e aponta os tropeços da imprensa brasileira nos tempos atuais.

Brasil de Fato RS: Depois de viver as limitações impostas pela ditadura militar durante 21 anos, como classificarias os mais recentes anos da redemocratização em termos das dificuldades para o exercício do jornalismo?
Elmar Bones: É preciso lembrar que a “redemocratização” foi precedida de algumas providências que preservaram o modelo consolidado na ditadura, a partir de uma estratégia autoritária que visava o controle da opinião pública através de um pequeno conjunto de meios, devidamente alinhados com os objetivos da “Revolução Redentora”. Em 1974, por exemplo, o governo levantou a censura mas fez ver às empresas que elas precisavam ter “redações mais confiáveis”.
Muitos dos profissionais expurgados, por “não confiáveis”, foram os criadores de uma “imprensa alternativa” – Pasquim, Movimento, Opinião, Extra, Versus, Coojornal… mais de 30 jornais que se tornaram relativamente influentes. Ganhavam leitores, mas também puxavam a mídia governista para temas que ela evitava: tortura, anistia aos exilados políticos, arrocho salarial.
“A imprensa que se consolidou na ditadura é praticamente a mesma que aí está”
Foi preciso o governo intervir, para o bom andamento da “abertura lenta, gradual e segura” e eliminar essa imprensa “não confiável”. Um plano incluiu desde cerco fiscal e financeiro, até a atemorização e prisão dos editores. E, diga-se, tudo isso transcorreu diante de um frio distanciamento da “imprensa confiável”.
O Estadão revelou, 30 anos depois, detalhes desse plano para acabar com os pequenos jornais independentes e reproduziu bilhetes do ministro Mário Henrique Simonsen, da Fazenda, indicando medidas financeiras para “apertar” os “nanicos”.
Quero dizer: a imprensa que se consolidou na ditadura é praticamente a mesma que aí está. Alinhados agora ao poder econômico, esses grupos formam um oligopólio, que impõe uma narrativa ditada pelo “mercado”. A concentração das verbas, privadas e públicas, inviabiliza a diversidade.
“Uma imprensa movida por reais convicções democráticas não teria participado da sórdida conspiração que derrubou Dilma Rousseff”
Eles têm a seu favor, agora, não ter entrado no 8 de janeiro. Foi importante, mas não creio que tenha sido por convicções democráticas. Foi, talvez, porque o capitão Bolsonaro não é o general Castelo Branco e o Heleno não é o Golbery.
Uma imprensa movida por reais convicções democráticas não teria participado da sórdida conspiração que derrubou Dilma Rousseff.
Não teria alimentado a Operação Lava-Jato com manchetes diárias, baseadas em vazamentos criminosos. Com aquele duto que jorrava dólares, no Jornal Nacional, a Globo sustentou a farsa por mais de dois anos. Em 1964, Julio Mesquita, diretor do Estadão, participava de reuniões onde se preparava o golpe, está lá nas memórias do general Olympio Mourão Filho. No dia 2 de abril, a manchete de O Globo foi a senha para os golpistas declararem vaga a Presidência da República e legitimar a tomada do poder. Hoje estão empenhados em desestabilizar o Lula. Mudou o quê?
“Uma informação de baixa qualidade, cheia de aditivos, alimenta uma opinião pública balofa, mal informada, manipulável”
Lendo os principais jornais do estado e do país você, enquanto leitor e cidadão, fica satisfeito com o material oferecido?
A crise atual, que atinge inclusive os grupos hegemônicos como a Globo, tem impacto direto na qualidade do conteúdo que oferecem. De um lado, o aumento das matérias pagas (o “brand content”), para incrementar a receita. De outro, a redução das equipes e salários para contenção de custos. Resulta esse fast food que servem diariamente a milhões de brasileiros.
Uma informação de baixa qualidade, cheia de aditivos, alimenta uma opinião pública balofa, mal informada, manipulável. Imagine comer hamburguer com coca-cola nas três refeições diárias. Pior: esse fast food noticioso quase de graça nos grandes veículos, engana o leitor que não se dispõe a pagar por uma informação qualificada. De outro lado, não há uma política pública que promova a diversidade dos meios, para romper com esse modelo de oligopólio.
Os dois grandes acontecimentos jornalísticos no Brasil em anos recentes foram, primeiro, as revelações da operação Lava Jato e, logo depois, aquelas conversas nada republicanas que vieram à tona com a Vaza Jato, desfazendo tudo aquilo que a imprensa propagara. Nenhuma das revelações teve a ver com o fazer jornalístico. Na primeira, os jornalistas comeram o prato feito do juiz Moro e dos procuradores de Curitiba. Na segunda, um hacker acessou os diálogos comprometedores. Em um e outro caso, a imprensa não investigou nada. O que esses dois episódios dizem sobre o jornalismo brasileiro hoje?
Revelaram tudo. Escancararam…
“Se (os jornais) tivessem publicado o que sabiam e investigado o que faltava saber em 2018, não teria havido o fenômeno Bolsonaro”
Tivemos um presidente como Jair Bolsonaro, alguém que, pouco mais de um ano antes de se eleger, recebeu somente quatro votos em uma votação para presidente da Câmara onde os eleitores – seus colegas – conheciam-no muito bem devido aos 25 anos de convivência. A impressão que se tem é que faltou imprensa para explicar ao eleitor quem era Bolsonaro. Ou não?
O Estadão publicou, há poucos dias, um editorial detonando o Bolsonaro, irretocável. Tinha que ter sido publicado em 2018, quando eles já sabiam muito bem quem é Jair Bolsonaro. Mas naquele momento não interessava mostrar isso. O que interessava era tirar o PT. Agora Bolsonaro não interessa mais, usa ele para comprovar a sua “fama de mau”. Se tivessem publicado o que sabiam e investigado o que faltava saber em 2018, não teria havido o fenômeno Bolsonaro.
Podes falar sobre tua experiência como editor passando por diversas tecnologias? Entendes que a tecnologia pode modificar o jornalismo? Se sim, como?
Comecei no tempo das linotipos e da impressão a chumbo. Acho que agora, neste tempo da informação instantânea, o jornalismo se torna ainda mais essencial e nunca, como agora, os jornalistas tiveram tantas possibilidades à sua disposição.
De um lado, os novos meios de busca e difusão de informações abrem uma perspectiva sem limites para o trabalho jornalístico. De outro, a imensa demanda de uma sociedade que aposta na democracia e precisa de informações confiáveis para seu desenvolvimento.
“O jornalismo tem que se reconstruir, de baixo para cima, e essa é uma tarefa dos profissionais”
O que está em xeque com os novos meios é o modelo de negócio, que emprega jornalistas para produzir um noticiário que atraia audiência e, consequentemente, anunciantes. Esse modelo deu origem, mundo afora, a grandes e pequenos “impérios” por dois séculos. É um modelo sem saída para o jornalismo. Dentro dele, o jornalismo está embretado.
O desafio é construir alternativas, com novas relações de trabalho, para resgatar o jornalismo. O jornalismo, nesse sentido, tem que se reconstruir, de baixo para cima, e essa é uma tarefa dos profissionais. As empresas acharão seus caminhos, mas atender ao “direito à informação” consagrado na Constituição brasileira é uma tarefa dos jornalistas. Foi um compromisso assumido pelos jornalistas quando, representados por Audálio Dantas, introduziram esse princípio na Constituição de 1988.
Assim como há planos de fomento para a agricultura, porque não há financiamento à produção de informações jornalísticas,
de interesse social?
A informação como um direito, o jornalismo como um serviço público, são conceitos que devem orientar uma política de enfrentamento à desinformação no Brasil. Assim como há planos de fomento para segmentos da agricultura, da indústria ou de serviços, porque não há financiamento à produção de informações jornalísticas, de interesse social, para estimular o surgimento de grupos que desenvolvem projetos inovadores, pequenos, médios, veículos de alcance local e regional, para diversos públicos?
O Brasil foi o primeiro país (não sei se ainda é o único) a incluir na sua Constituição o “direito à informação”, além dos direitos tradicionais de liberdade de imprensa e liberdade de expressão.
O Brasil é um “deserto de notícias”: metade dos municípios não têm sequer um veículo de informação local. Sim, já existe uma importante “imprensa alternativa” como nos anos da ditadura: ICL, Pública, 247, Fórum, DCM… aqui em Porto Alegre, o Sul 21, o Matinal, este Brasil de Fato, o Já e outros que podem ser a vanguarda de uma grande mudança, se tiverem apoio dos leitores, mas também de políticas públicas.
“Um dos orgulhos que tenho é ter garantido a continuidade de A Platéia, que está viva até hoje”
Por que tu, Kenny Braga e Danilo Ucha, compraram o jornal A Platéia, de Livramento? Como foi editar um diário na fronteira?
Essa história de Livramento foi uma invenção minha. Em 1980, junto com três colegas da Coojornal – Osmar Trindade, Rafael Guimarães e Rosvita Saueressig –, estava sendo processado pela Lei de Segurança Nacional por ter publicado relatórios do Exército sobre guerrilhas acontecidas dez anos atrás e nunca noticiadas. Fomos condenados e presos, havia um ambiente opressivo em Porto Alegre. Decidi sair da cidade.
Recebi um convite da Gazeta Mercantil para abrir a sucursal em Salvador, estava com tudo acertado, até com a passagem. Fui a Livramento me despedir da minha mãe e acabei arrendando o jornal A Platéia. Eu tinha começado lá aos 17 anos. Fui num jantar comemorativo do jornal e, no meio da festa, o dono me disse que ia fechar o jornal. Tinha posto à venda e não aparecera comprador.
Liguei pro Ucha, o Kenny e o Jorge Escosteguy, meus amigos, também santanenses, e arrendamos o jornal, completamente falido, confinado num galpão. O trato era um rodízio entre os sócios na direção do jornal em Livramento, mas nenhum deles quis voltar para a cidade. O Escosteguy, que estava em São Paulo, tentou, mas teve problemas familiares e teve que voltar. Quatro anos depois, com o jornal circulando diariamente, com 7 mil exemplares, saímos do negócio. Mas um dos orgulhos que tenho é ter garantido a continuidade de A Platéia, que está viva até hoje, a caminho dos 90 anos. Ali eu fiz uma pós-graduação. Ali tive certeza da fundamental importância do jornalismo local.
“Uma reportagem na qual não se apontou um erro, deu ensejo a um processo e uma condenação por dano moral. O silêncio foi a senha. São mais de 20 anos de assédio”
Há mais de 10 anos existe um processo correndo contra o jornal Já e seu editor. Para relembrar: qual a origem do processo e como está essa situação hoje?

O caso do Já, guardadas as devidas distâncias, é uma repetição do que aconteceu com a Coojornal. Um projeto jornalístico com uma proposta nova, sem os compromissos dos grupos dominantes. Enquanto ele era mambembe, com poucos leitores, tudo bem. Quando ele se firma, ganha leitores e começa a publicar coisas incômodas, ainda que verdadeiras, então precisaram dar um jeito nele.
O Já começou em 1985 numa sala alugada no centro de Porto Alegre, em 1998 estava num prédio de dois andares no Bom Fim, editando um jornal de reportagens, quatro jornais de bairro, editando livros, com mais de 40 pessoas envolvidas em seus projetos. Uma reportagem na qual não se apontou um erro, deu ensejo a um processo e uma condenação por dano moral. O silêncio foi a senha. São mais de 20 anos de assédio.
No momento estou às voltas com advogado, o Dr. Marco Tulio de Rose, para contestar um pedido de falência do Já, num processo que ultrapassa todos os limites do absurdo: um empresário que matou a mulher e queimou o cadáver, processou o jornal por uma reportagem do Renan Antunes de Oliveira. Ele não apontou erros na matéria, mas alegou que ela, na internet, prejudicava sua reabilitação social. Ganhou uma indenização por dano moral, hoje quase R$ 100 mil em valores atualizados. Já obteve o bloqueio das contas da editora e agora pediu a falência para garantir a indenização. Ainda estamos aqui com o site, nosso jornal on line, e a editora Já que faz três ou quatro lançamentos por ano. Aguardamos o desfecho de uma ação que corre há mais de 10 anos na Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), contra o Estado brasileiro que não garantiu nosso direito de defesa e à liberdade de imprensa em vários processos. Aos 81 anos, não sei se verei o desfecho.
Tens algum novo projeto?
Restabelecer o projeto do jornal Já e transferi-lo para um grupo de jornalistas que desenvolva uma nova relação de trabalho, sem patrões e com apoio do leitor. Na Alemanha, inclusive, há uma cooperativa de leitores cujo objetivo é sustentar uma mídia independente voltada aos assuntos locais.





