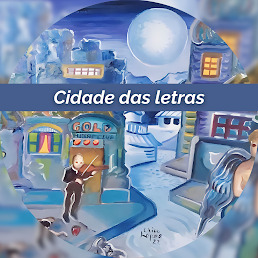Por Cleiton Donizete Corrêa Tereza
“Somos um zilhão de estrelas impossíveis de contar,
cada história tem seu brilho e ninguém pode apagar.
Onde quer que esteja fica acesa em cada olhar, olhar, olhar…” – Renan Inquérito
Vaga-lumes, ou pirilampos, olha que nome bonito e curioso, são besouros peculiares. Da família dos elaterídeos, fengodídeos e lampirídeos, existem mais de 2500 espécies registradas, e o Brasil se destaca, com mais de 300, de acordo com uma reportagem publicada no portal G1 em junho deste ano, informando sobre o trabalho de um jovem pesquisador brasileiro, Breno Uehara, “caçador de vaga-lumes”, no Japão.
Outra matéria, de três anos atrás, do site Conexão UFRJ, apresentando as descobertas dos também jovens pesquisadores Lucas Campello e Stephanie Vaz, afirma que conhecemos apenas cerca de 30% das espécies existentes de vaga-lumes. Porém, como noticiou outra produção jornalística também do G1, há algumas semanas, com contribuições da bióloga Jéssica Viana, que também já catalogou novas espécies de pirilampos, há consenso científico que esses pequenos seres estão desaparecendo.
Os principais motivos apontados são luz noturna, poluição da água, perda de habitat e uso de pesticidas. Sendo o último a principal ameaça para esses artrópodes.
E foi em uma mesa de bar, à noite, sem vaga-lumes, numa cidadezinha do sul de Minas Gerais, com familiares e um grande amigo, que me acompanha nessa vida desde que me recordo de mim mesmo, que começamos a discutir sobre as possibilidades de extinção desses insetos.
Meu amigo insistia na perda do habitat, e eu, mesmo sem ter parado para pesquisar especificamente a respeito, ressaltava o uso dos agrotóxicos. Sabe como são essas discussões entre amigos de longa data, não dá para recuar.
Dias depois, debatendo questões correlacionadas em grupo de estudos e pesquisas, sem cerveja e de forma criteriosa, fiquei pensando mesmo se vale a pena viver em um mundo sem vaga-lumes. Porque, para além dos nomes científicos e das catalogações necessárias, esses bichinhos sempre foram para mim, e para muita gente, uma das maiores representações de encantamento, de luz, no sentido mais profundo e poético!
Comunicaçãou ou coprodução e coaprendizagem
O livro em discussão no grupo era Comunicação ou coprodução e coaprendizagem: diálogo com a obra extensão ou comunicação?, de Décio Auler, obra em relação a qual tenho certas restrições, contudo, não vou me ater a elas. Quero ressaltar o que para mim é o ponto alto das argumentações, presentes no capítulo 3, nomeado Valores subsumidos, omitidos. Nessa parte, entre outras contribuições, o autor explicita o tamanho do desafio, pois, se considerarmos, como ele afirma, e creio ser difícil negar (mesmo não esquecendo da centralidade das contradições) que os produtos da tecnociência possuem valores incorporados, pois não são neutros, precisamos então estarmos atentos para os valores colocados em circulação com esses produtos.
Portanto, não se trata somente de uma questão de socialização, democratização, mas também de pensarmos e construirmos outros tipos de concepções e produções, para assim, fazermos circular outros valores, possibilitando outros paradigmas de consciência.
Hoje, o que circula fortemente, na dinâmica capitalista, são os produtos e valores da monocultura. Por mais que a indústria cultural tente dizer sobre as supostas diversidades do agrobusiness, por exemplo, com aparentes sustentabilidades, sofisticações, aprimoramentos, selecionamentos… ao final, constituem apenas pequenas variações do mesmo cerne. Do conteúdo à estética, que não se separam, somente maquilações das mesmas estruturas, interesses e ideologias. A monocultura é econômica, política, cultural.
Para contrapor, como professor que sou, penso nas possibilidades educativas. E, como discuti em O espaço, a escola e a questão ambiental: análise crítica das relações na sociedade de consumo e possibilidades educativas, publicado no livro digital, disponível gratuitamente no site da Arco Editores, Educação ambiental em tempos de emergência climática e desastre socioambientais: desafios para uma formação crítica e emancipadora, organizado por um conjunto de competentes colegas educadores e pesquisadores:
“A Educação Ambiental exige a consideração holística dos fenômenos. Afinal, a própria fragmentação, nos mais diversos campos, característica do presente, constitui um problema fundante que fomenta a ignorância ou o desdém em relação às ações humanas prejudiciais ao equilíbrio ambiental (…) a Educação Ambiental, com premissas críticas, não se limita aos estratagemas neoliberais de desfaçatez da gestão das catástrofes, com discursos de compensação, fajuta sustentabilidade ou até mesmo negacionismo explícito, como se tudo pudesse ser administrável. Ao considerar problemas atuais, oriundos do desenvolvimento capitalista pautado na extração, no consumo e na acumulação, em detrimento das questões centrais para preservação e continuidade da vida, a Educação Ambiental torna-se cada vez mais importante para a emancipação, sobretudo no âmbito da educação formal”.
Assim, diante da degradação profunda, do meio ambiente, das relações sociais e das capacidades criativas, ainda mais reduzidas em associação com os modelos de linguagem artificiais e determinações algorítmicas, em que não há espaço para a existência das tantas variedades de pirilampos, pestes que disseminam sentimentos e sonhos, precisamos fortemente empregar esforços em perspectivas educativas e revolucionárias de preservação e reconhecimento das diversidades.
Do contrário, antes que tudo termine, para além de ser ou não possível, precisaremos nos perguntar se valerá a pena viver em um mundo sem vaga-lumes.
Cleiton Donizete Corrêa Tereza é professor Doutor do Departamento de Educação, Informação e Comunicação (DEDIC) da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP) da Universidade de São Paulo (USP). Foi professor de História nas redes municipal de Poços de Caldas e estadual de Minas Gerais por quase duas décadas. É especialista em História Contemporânea (PUC Minas), especialista em Planejamento, Implementação e Gestão de Educação a Distância (UFF), mestre e doutor em Ciências Humanas (Diversitas-FFLCH-USP).
—
Leia outros artigos da Coluna Cidade das Letras: Literatura e Educação no Brasil de Fato MG
—
Este é um artigo de opinião, a visão do autor não necessariamente expressa a linha editorial do jornal