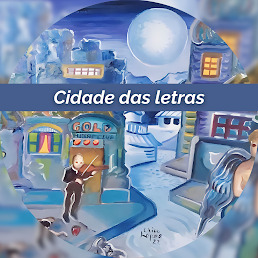Por Cleiton Donizete Corrêa Tereza
“Um homem que não luta por uma causa nunca foi digno de viver” – Kid MC
Nos tempos da colonização portuguesa, na região que hoje corresponde ao espaço territorial de Angola – com início em 1482, perdurando até 1975 – existiam diversas formas de exploração sobre os colonizados. Uma delas era a cobrança abusiva de impostos, que no caso de um empreendimento colonial, não consiste (nem como discurso de justificação) em um acordo social com vistas ao atendimento das necessidades e anseios da população contribuinte.
Conta-se que, certa vez, diante dessa condição injusta, levantou-se um jacaré, que foi atrás do colonizador para lhe pagar. O dinheiro estava entre os dentes, bastava o cobrador de impostos retirá-lo. Frente à situação, o colonizador pôs-se a correr. A partir daquele momento, todos passaram a conhecer o feito do Jacaré Bangão (o pagador).
:: Receba notícias de Minas Gerais no seu Whatsapp. Clique aqui ::
Por isso, na província do Bengo, o jacaré é um símbolo popular de resistência, de afrontamento e de liberdade. Aparece em diferentes lugares, seja esculpido na entrada de um hotel ou reconstruído por estudantes em uma feira educativa, como pude presenciar. A história do jacaré, que uns podem apreciar enquanto mito e outros como história verídica, habita a mentalidade das comunidades do Bengo. Seja como for, o Jacaré Bangão vive!
Tive acesso a essa narrativa e a outras, carregadas de saberes, durante os dez dias em que estive em Angola no mês de julho – neste ano em que o país africano – que possui muitos recursos naturais, ao menos trinta e seis milhões de habitantes e diversas etnias, culturas e línguas, além do português e da influência cristã – comemora cinquenta anos de independência.
Minha viagem para Angola se deu no âmbito de um projeto de cooperação internacional, financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e pelas instituições de ensino superior envolvidas. Elaborado e realizado por uma equipe de pesquisadores, sob a coordenação do professor Danilo Seithi Kato, meu parceiro de viagem, o projeto foi intitulado “Diálogos Interculturais entre Saberes e Formação de Pesquisadores no Brasil, Colômbia e Angola: Contextos de Conflitos Socioambiental e Emergência Climática”.
Durante a missão internacional, participamos e desenvolvemos diversas atividades culturais e acadêmicas, nas províncias de Luanda, Bengo e Cuanza Sul, dentre elas, reuniões, oficinas pedagógicas, visitações a museus, contato com as comunidades e banca de qualificação de doutorado. Em um dos momentos mais significativos, pudemos entrevistar o soba da comunidade da Açucareira, no Bengo. Os sobados são instituições populares tradicionais e sua autoridade, de cunho patriarcal, é composta de elementos religiosos e políticos.
Como é recorrente em viagens, mesmo que a trabalho, também ocorreram situações não previstas que possibilitaram vivências extraordinárias.
Para mim, foi marcante poder circular em uma praça no Bengo, à noite, acompanhado de alguns companheiros de trabalho, um deles o motorista que vivia no pedaço, e que disse ser o “pai grande”, isto é, conhecia todo mundo por ali, sendo querido e respeitado. Caminhando por essa praça pude entender melhor as relações fora do ambiente acadêmico, as dinâmicas sociais cotidianas que tanto me interessam: os jovens tomando uma cerveja, as conversas na esquina, o interesse pelo futebol ao identificarem minha camisa do Fluminense Football Club.
Foi interessante também conhecer e ouvir uma pesquisadora da Bahia, apaixonada por Angola, que vive há quase seis meses no país desenvolvendo sua pesquisa de doutorado. Esse contato, acompanhado por uma professora e pesquisadora angolana, também doutoranda, contribuiu para compreendermos alguns regramentos e condutas, como exemplificados com a importância dos alambamentos (uma série de rituais envolvendo o pedido da mão da noiva, considerado até mais importante que o próprio casamento civil ou religioso, que envolve as famílias e compensações de bens) e certas dificuldades organizacionais presentes na sociedade e nas instituições de ensino superior.
Em outro momento, tive que procurar uma barbearia. Recomendaram que pegasse um mototáxi. Tenho aversão profunda a andar de moto, tem tudo para dar errado, ainda mais no contexto do trânsito das cidades angolanas, com grande circulação de pedestres, pouca sinalização e ruas irregulares, e sem capacete, item raramente utilizado no país. Mas lá fui eu… com toda apreensão possível!
Ao chegar na barbearia, em uma rua movimentada da cidade do Sumbe, fui surpreendido com um excelente atendimento. Precisava raspar a cabeça e aparar a barba. Em minutos o barbeiro fez o serviço, com bons equipamentos e muita habilidade! Senti mesmo a sensação de negros cuidando de negros e entendendo melhor o corpo e os gostos. Algo difícil de descrever para quem não experiencia determinados tratamentos atravessados pela branquitude no Brasil, que influencia grandes áreas estruturais, mas interfere também na maneira como nos relacionamos em termos de tato, de afetos, conosco, com os outros, com o mundo.
Aliás, percebi que os angolanos, em geral, não compreendem bem o racismo existente numa sociedade como a nossa, afinal, lá, quase todas as pessoas são negras, de pele retinta, como dizemos.
Pessoas negras estão por todos os lados, nas feiras, nos templos (e as empresas evangélicas neopentecostais estão aumentando sua presença nos últimos anos), nos escritórios, nas universidades, nas lojas – independente do status, portanto, podem pertencer a classes distintas, e existem conflitos neste sentido, mas são todos negros.
São os negros e negras que atendem, falam, anunciam, ensinam, gerenciam, paqueram e são paquerados, etc. Não existe a apartação racial presente na sociedade brasileira, em que, negros não circulam, circulam pouco ou não são bem-vindos em determinados espaços, sobretudo se não abandonarem hábitos, estilos e ideias de preto. Ao mesmo tempo em que posições e ambientes desprestigiados são entendidos, mesmo que por vezes não verbalizado, como seus destinos naturais.
A experiência desse pequeno recorte de Angola me permite dizer que temos, de fato, muita coisa em comum. Definitivamente, o Atlântico, que nos separa, também nos uniu. Desde a língua (devido a colonização portuguesa), passando pela culinária, os gestos, a alegria, a força, os ritos, até os problemas políticos.
Independência e neocolonização
Aprendi bastante com os relatos sobre a independência, as disputas que se seguiram e os horrores da guerra civil que terminou somente em 2002. Conversei com pessoas que nasceram antes da independência, e acompanham e participam de toda história angolana enquanto país livre, perpassada pelo reconhecimento de avanços, mas também por frustrações.
Escutei histórias de quem lutou na guerra civil, envolvendo o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) e a Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA), em um contexto influenciado pelas superpotências durante a Guerra Fria. Tive contato com a dor daqueles que ficaram anos sem poder estudar, sem poder transitar pelo país, com famílias separadas, irmãos mortos.
O resultado atual é de um país com profundas marcas de quase quinhentos anos de colonização, seguido de uma guerra civil que eliminou entre 260 e 500 mil vidas, embora os angolanos estimem que as perdas tenham sido ainda maiores. Confiar nos números oficias é sempre perigoso, no caso angolano um pouco mais.
Há carências elementares de infraestrutura: equipamentos e programas administrativos, pavimentação das ruas, distribuição de água tratada e de energia eléctrica, atendimento de saúde, entre tantos outros. Portanto, aqueles que de forma irresponsável, em nosso país, especialmente da extrema direita, instigam a guerra civil, deveriam considerar os efeitos de uma luta nesse sentido para a vida das pessoas e o longo e sofrido tempo para a reconstrução.
Angola, hoje, passa por limitações com um governo de coalização liderado pelo MPLA que se mostra limitado, com hesitações democráticas – o atual presidente é um militar e não existem eleições para prefeitos e governadores, reinam as indicações –, com dificuldades de atender os anseios populares básicos, como emprego e inclusão no sistema educacional.
O neocolonialismo persiste. Empresas francesas, chinesas, portuguesas, árabes e indianas, por exemplo, sob o viés imperialista, atuam extraindo riquezas como petróleo, minério e produtos agrícolas, e obtendo grande lucratividade, sem garantir melhorias efetivas para o povo angolano, as multidões erráticas pelas ruas e as comunidades rurais vacantes, tendo que se virar, não me deixam mentir.
Por outro lado, esse lindo país multiétnico, composto por povos Ovimbundu, Ambundu, Bakongo, Tchokwe, Herero, Ngaguela, dentre outros, na perspectiva em que buscamos trabalhar, no âmbito do projeto que possibilitou minha primeira estadia no continente berço da humanidade, em território angolano, origem também do povo brasileiro devido ao tráfico de escravizados, terra dos míticos imbondeiros (baobás), onde sereias e jacarés pagadores de impostos podem existir, possui potencialidades de contribuir com a superação da continuidade das violências, inclusive em termos históricos e culturais, para a construção de saberes integrados e fortes – mesmo prezando pelos necessários debates epistêmicos – que sejam capazes de contrapor a continuidade dos efeitos nocivos engendrados pela colonialidade capitalista.
Isto é, ampliando horizontes, congregando tradições, memórias, afetos e tecnologias em movimentos de reinvenção que permitam o desenvolvimento sob fundamentos éticos de reconhecimento, almejando a superação das engenharias de subalternização de uma sistemática de modernidade e progresso que não dá sinais de compromisso com os povos do Sul global; como pode ser contemplado nos olhos de muitas crianças angolanas maravilhosas, carentes e encantadoras, outro mundo é necessário e possível!
Cleiton Donizete Corrêa Tereza é professor Doutor do Departamento de Educação, Informação e Comunicação (DEDIC) da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP) da Universidade de São Paulo (USP). Foi professor de História nas redes municipal de Poços de Caldas e estadual de Minas Gerais por quase duas décadas. É especialista em História Contemporânea (PUC Minas), especialista em Planejamento, Implementação e Gestão de Educação a Distância (UFF), mestre e doutor em Ciências Humanas (Diversitas-FFLCH-USP).
—
Leia outros artigos da Coluna Cidade das Letras: Literatura e Educação no Brasil de Fato MG
—
Este é um artigo de opinião, a visão do autor não necessariamente expressa a linha editorial do jornal