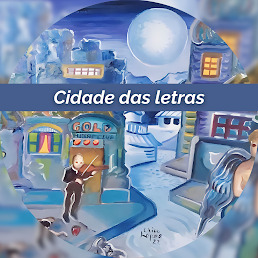Por Natália Gil e Luciano Mendes
Qualidade do ensino é o tipo de tema em que supostamente chegamos rápido a um consenso. Não importa se somos conservadores ou progressistas em educação, o que se defende há tempos e por todo lado é uma educação de qualidade para todos. De modo geral, o que tem tido centralidade na argumentação é a suposta necessidade de melhoria de qualidade, baseada na também suposta baixa qualidade da escola brasileira.
Não deixa de ser verdade que sempre é preciso e possível melhorar e que há precariedades e insuficiências que devem ser resolvidas. Ainda assim, fica faltando olhar para a situação de modo mais cuidadoso e menos preso a estereótipos, mas isso é tema para outra conversa!
Aqui, interessa compreender o que há de diferença quando grupos sociais distintos falam em qualidade do ensino (ou na falta dela). O debate é antigo e a controvérsia também. Aliás, por falar em controvérsia, uma delas é sobre as apropriações, e atualizações, do passado para interferir no presente.
:: Receba notícias de Minas Gerais no seu Whatsapp. Clique aqui ::
O que se percebe a este respeito é que, em cada época, as pessoas, inclusive políticos e intelectuais, tendem a considerar a escola do “passado” como sendo de melhor qualidade do que a atual. É uma espécie de nostalgia, de idealização baseada em memórias pessoais e ou compartilhadas, mas que tem muito efeito de verdade e, em boa parte das vezes, efeitos muito negativos sobre as políticas educacionais do tempo presente.
Outra controvérsia não menos importante é a utilização da noção de “qualidade do ensino” para justificar o pouco efeito da escola na distribuição de renda no Brasil. Ao longo do século XX as classes abastadas – notadamente as elites empresariais – diziam que a falta de escolarização da população era um impedimento ao desenvolvimento e à distribuição de renda.
Quando se massificou a escola, apesar do crescimento econômico, a justificativa para a concentração de renda deslocou-se: segundo estas mesmas elites empresariais, quando houver um “ensino de qualidade”, assegurando-se não mais o direito à matrícula, mas o “direito à aprendizagem” teremos uma maior distribuição de renda.
Por falar em “direito à aprendizagem”, se analisarmos a questão da repetência escolar, por exemplo, é fácil notar que ela pode ser evocada tanto para afirmar que uma escola tem qualidade quanto o inverso disso.
Assim, a depender de quem fala, uma escola ou professor que reprova grande parte dos seus alunos é considerado excelente. Nesse sentido, as ideias de rigor na avaliação e seletividade dos alunos com foco no domínio de conhecimentos escolares específicos é o que está em jogo. Onde o aluno aprende efetivamente tais conteúdos não importa tanto, de modo que escola e professor, nesse caso, se desresponsabilizam pelo processo de ensino-aprendizagem.
Por outro lado, se a discussão assume como critério incontornável o direito de todos à aprendizagem e o combate inegociável à exclusão escolar, daí a repetência passa a significar má qualidade do ensino. Nesse sentido, uma escola ou professor que reprova muitos alunos evidencia que não tem compromisso com o processo ou que não sabe ensinar.
Avaliação da aprendizagem
Foi, portanto, com boas intenções que nos anos 1990 entrou no debate a defesa da avaliação da aprendizagem. Já não seria o caso, então, de medir apenas os totais de matrícula para conferir se o país vinha sendo capaz de garantir a todos o direito à educação. Era preciso, também, verificar se quem chegava à escola estava aprendendo adequadamente.
Nesse aspecto, o ponto cego do debate está em definir afinal o que permite comprovar que houve aprendizagem e quais são os saberes que todos os alunos devem aprender. Aparentemente fácil, essa definição é cheia de pegadinhas. Isso porque o currículo escolar não é neutro e, desse modo, a escola acaba privilegiando algumas classes sociais em detrimento de outras ao estabelecer como critério de avaliação o domínio daquilo que Pierre Bourdieu chamou de capital cultural, algo que se aprende muito mais no meio social de origem do que nos bancos escolares.
Mas não é apenas esse o problema.
Também o modo de aferição precisa ser colocado em debate: as provas padronizadas de verificação da aprendizagem, como a Prova Brasil e o ENEM, só conseguem capturar parte muito pequena do que é tarefa da escola ensinar. No caso da Prova Brasil, por exemplo, são objeto de avaliação apenas os conhecimentos em leitura e matemática. Em todas elas, fica de fora o que se aprende em educação física e artes, por exemplo. Isso para restringirmos nossa crítica àquilo que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) estabelece como componentes curriculares.
No entanto, a área de educação, e mesmo a BNCC, apresentam um conjunto muito mais abrangente de objetivos do ensino e que as provas padronizadas são incapazes de avaliar.
É o caso, para citar apenas um exemplo dos muitos disponíveis na BNCC, da seguinte competência geral para a educação básica: “Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza”. Como isso vem sendo avaliado? Nossas escolas têm se preocupado com essas aprendizagens?
A resposta, infelizmente, seria “muito pouco” e “cada vez menos”. As provas padronizadas, cujo propósito é avaliar a qualidade do ensino, paradoxalmente acabam contribuindo para piorar a qualidade daquilo que se faz nas escolas na medida em que induzem a restrição do ensino ao treinamento para responder perguntas em provas e deixam de lado, por falta de tempo, aprendizagens fundamentais que não “caem” nas provas.
Luciano Mendes (UFMG) e Natália Gil (UFRGS) são editores da coluna Cidade das Letras do Brasil de Fato MG.
—
Leia outros artigos sobre educação e literatura na coluna Cidades das letras: Literatura e Educação no Brasil de Fato MG
—
Este é um artigo de opinião. A visão dos autores não necessariamente expressa a linha editorial do jornal