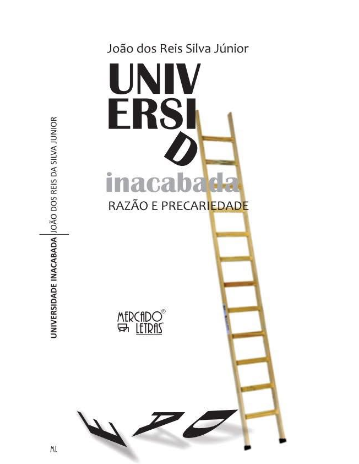Por Carlos Lucena
A obra Universidade Inacabada: Razão e Precariedade, de João dos Reis Silva Júnior (Editora Mercado das Letras/UFSCar, 2025), revela-se como um tratado crítico de primeira ordem, cujas lentes econômicas penetram, com precisão desconcertante, as engrenagens mais íntimas da universidade pública brasileira.
Não se trata aqui de uma descrição episódica da crise ou de um ensaio nostálgico por um passado acadêmico idealizado. O autor oferece, ao contrário, uma anatomia minuciosa da universidade como organismo funcional de um capitalismo periférico, financeirizado e subordinado. Nesse cenário, a precariedade não comparece como disfunção transitória ou acaso administrativo, mas como expressão estrutural de uma racionalidade sistêmica que opera por meio da seletividade modernizadora, da expropriação epistêmica e da captura progressiva do fundo público.
Em diálogo com os Grundrisse e O Capital, Silva Júnior reposiciona o trabalho universitário como força produtiva integralmente submetida à lógica da mercadoria. O professor-pesquisador não é mais um sujeito formador ou produtor de pensamento crítico, mas um operador de capital simbólico, compelido a converter tempo em relatório, invenção em métrica, e reflexão em dados quantificáveis.
A universidade, nesse contexto, transforma-se em um centro de geração de ativos simbólicos – rankings, patentes, indicadores, parcerias – que visam não à emancipação do saber, mas à valorização fictícia do capital, ainda que o cotidiano institucional se veja atravessado pela penúria material e pelo desmonte sistemático das condições de trabalho.
Essa contradição, fundante na estrutura social brasileira, torna-se particularmente visível quando a universidade é lida como um artefato econômico de antecipação de valor futuro, mesmo em condições de subfinanciamento. A universidade, nesse jogo, torna-se fiduciária da esperança de valorização dos ativos que ela mesma produz simbolicamente.
Numa sociedade cuja elite intelectual emerge de instituições em ruínas e cujos docentes sobrevivem à margem do orçamento público, o paradoxo é completo: a universidade é centro de excelência e periferia institucional ao mesmo tempo, espelhando a própria lógica dual da formação social dependente.
A crítica torna-se mais cortante quando o autor observa os efeitos do novo regime fiscal sobre a universidade. A austeridade permanente converte o fundo público em ativo de rentabilidade para o mercado financeiro, fazendo da universidade uma prestadora de serviços precarizados, mensurada unicamente por sua capacidade de gerar valor simbólico segundo os interesses do investidor institucional.
A governança universitária, destituída de projeto coletivo, passa a operar com as ferramentas do capitalismo cognitivo: antecipação de receitas, cortes sistemáticos, gestão por resultados e supressão das subjetividades dissonantes. O algoritmo substitui o juízo, a planilha substitui a pedagogia, e o ranking substitui o reconhecimento.
Apartheid acadêmico
Essa racionalidade, como bem observa o autor, assume tonalidades ainda mais sombrias no interior do capitalismo dependente. A dualidade estrutural da universidade brasileira – retomando as teses de Francisco de Oliveira e Ruy Mauro Marini – revela um sistema em que a excelência não elimina a precariedade, mas a legitima.
As universidades situadas no eixo privilegiado da região Sudeste acumulam recursos, prestígio e inserção internacional, ao passo que os campi interiorizados, os cursos de licenciatura e as humanidades operam sob a lógica da escassez permanente. Nesse cenário, a universidade pública administra, reproduz e justifica a desigualdade sob a roupagem de um discurso meritocrático, que opera como dispositivo de exclusão e racionaliza o apartheid acadêmico.
No âmago dessa crítica, reside uma constatação perturbadora: a universidade brasileira tornou-se uma usina de produção do precariado intelectual. Não se trata apenas da contratação precária ou da ausência de concursos. Trata-se da constituição deliberada de uma nova classe trabalhadora acadêmica – bolsistas, substitutos, pós-doutores não efetivados – que sustenta a engrenagem científica sem qualquer garantia de permanência.
A universidade passa, então, a formar sujeitos excedentes, diplomados sem destino, entregues à servidão cognitiva. A esperança de ascensão social pelo saber é substituída pela pedagogia da frustração: edital após edital, promessa e cancelamento, construção e ruína. Forma-se, assim, um ambiente universitário saturado de ansiedade, sofrimento mental e alienação subjetiva.
Mas a financeirização do saber, como sustenta o autor, não se limita à gestão orçamentária: ela infiltra-se no próprio coração ontológico da universidade. O conhecimento é separado de sua função emancipatória e convertido em mercadoria simbólica, validada não por sua densidade conceitual ou impacto social, mas por sua conformidade a critérios de mercado.
A análise de Eleutério Prado é fundamental nesse ponto: a universidade torna-se subordinada ao regime do capital portador de juros, onde o valor reside não naquilo que é, mas naquilo que pode vir a ser. A pesquisa torna-se promessa de rentabilidade futura, e sua função social é substituída por sua capacidade de gerar indicadores. A universidade torna-se elo estratégico na produção de ativos intangíveis, úteis não à sociedade, mas aos mercados.
Nesse horizonte de crítica estrutural, o autor não se contenta com o diagnóstico: ele propõe a universidade insurgente como gesto de ruptura. Não se trata de uma utopia abstrata ou de uma recuperação melancólica de um passado idealizado. Trata-se de uma proposição concreta: a refundação da universidade pública a partir das margens, das práticas solidárias, das vozes silenciadas, dos coletivos subalternos.
A universidade insurgente rompe com a lógica da governança financeira e propõe a desmercantilização do saber, a recomposição do tempo acadêmico como tempo criador e a devolução do fundo público à sua função social originária. Trata-se, enfim, de colocar a vida – e não o capital – no centro do projeto universitário.
Universidade Inacabada, nesse sentido, é um livro sobre economia política, mas também sobre esperança crítica. Não se furta ao pessimismo do diagnóstico, mas tampouco se rende ao niilismo da paralisia. É um livro que pensa com os vencidos, mas escreve com os que ainda lutam. E, ao fazê-lo, oferece ao leitor brasileiro e, eventualmente, estrangeiro, uma chave interpretativa de grande valor para compreender a universidade como campo de disputa, como território em aberto, como construção inacabada à espera da coragem de sua reinvenção.
Carlos Lucena é professor titular da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).
—
Leia outros artigos da coluna Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e Artes em Pauta, do APUBH, no Brasil de Fato MG.
—
Este é um artigo de opinião. A visão do autor não necessariamente expressa a linha editorial do jornal.